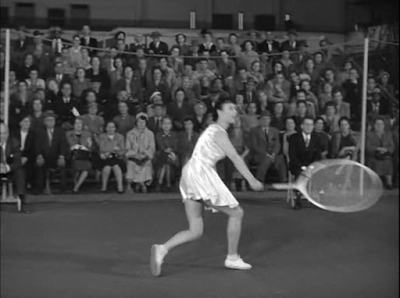terça-feira, abril 30, 2019
segunda-feira, abril 08, 2019
Nas Garras da Ambição (Raoul Walsh, 1955) e Meu Pecado foi Nascer (Raoul Walsh, 1957)
Nathan Stark (Robert Ryan sobre Ben Allison, personagem de Clark Gable): There goes the only man I ever respected. He's what every boy thinks he's going to be when he grows up and wishes he had been when he's an old man.
Em virtude do lançamento de A Mula (Clint Eastwood, 2018), resolvi
enfileirar alguns filmes de Raoul Walsh para desfrutar do prazer da mise-em-scène de um dos grandes artesãos
do cinema clássico norte-americano. Meu
Pecado foi Nascer foi visto na semana passada e Nas Garras da Ambição foi visto ontem. Ambos são protagonizados por
Clark Gable, numa ótima parceria que poderia ter rendido mais filmes além do
terceiro faltante da lista, Esse homem é
meu (1955); a virilidade do ator é compensada pelo seu charme e carisma
característicos, elementos apoiadores da sensibilidade dos personagens por ele interpretados, habitualmente
errantes em busca de um último instante de adrenalina, antes do apaziguamento
físico e moral desejado quando serão coroados pela serenidade e companhia de
uma linda mulher (Yvonne de Carlo e Jane Russell).
A reflexão gerada pela abordagem do
preconceito em Meu Pecado foi Nascer
foi mais profunda do que em muitos filmes que empunham a bandeira da tolerância
com unhas e dentes. A transformação do personagem de Sidney Poitier é
reveladora dessa complexidade, quando ele se vê desarmado pelo discurso de
Clark Gable, marcante a ponto de fazê-lo enxergar o ser humano por trás do
ganancioso mercador de negros, que faz uso da sua posição social para proteger
ele e outros escravos dos maus tratos e abusos de outros coronéis. Na verdade,
ninguém é mocinho na história. Essa ambivalência do discurso preserva a
complexidade do tema, nem sempre tratado com a devida consideração. O filme é
entretenimento de altíssimo nível, sem menosprezar a inteligência do
espectador.
Nas
Garras da Ambição merece ser visto em tela grande, sobretudo pela
segunda parte quando os protagonistas partem do Texas rumo a Montana conduzindo
um rebanho de milhares de cabeças de gados e cavalos. Não me recordo de ver um western tão arrojado e dispendioso no trato de figurantes, especificamente, uma horda de animais em deslocamento contínuo - a minha memória clama pelo
resgate de Rio Vermelho (1948, Howard
Hawks). O trajeto é tão acidentado que rola até um arriamento de carroça
por cordas que é algo inédito pra minha ignorância. Toda essa grandeza serve
perfeitamente ao embate moral e psicológico travado pelos personagens de Clark
Gable e Robert Ryan, interposto pela personagem de Jane Russell. Não vejo toda
essa beleza na atriz, que supostamente desperta o desejo dos dois machões,
embora lhe sobre sensualidade. É um filmaço!
domingo, fevereiro 24, 2019
Infiltrado na Klan (Spike Lee, 2018)
Daqui a pouco começa a festa do Oscar.
Embora já faça uns bons anos que não consigo assistir a todos os filmes
indicados anteriormente a noite da premiação, persisto posteriormente para
tentar preencher essa “lacuna”. Do ano passado ainda me faltam Me Chame pelo Seu Nome (Luca Guadagnino,
2017) e Trama Fantasma (Paul Thomas
Anderson, 2017).
Confesso que esse ano eu tive a
oportunidade de assistir a todos os indicados com antecedência, mas me faltou
apetite para abraçar todas as propostas apresentadas. O único que me chamou a
atenção e honestamente não sei como foi parar por lá foi o Infiltrado na Klan, de Spike Lee. Faz duas semanas que o vi no
cinema e digo que valeu a espera.
A história é tão bizarra que é difícil
encará-la a sério. Spike Lee sabia disso. Tanto que ele nunca abandona o tom de
deboche da proposta, como se o próprio ato de filmá-la fosse encarado como uma represália histórica regozijante, uma espécie de triunfo folclórico tardio. A recriação do episódio é a oportunidade de fazê-lo com a segurança
de se lambuzar sem se envolver com o perigo real da missão, assumida por
completo pelo personagem judeu de Adam Driver que se expõe de forma visceral.
Ciente dessa linha tênue de abordagem, da qual ele sempre foi muito crítico, e
sua própria filmografia é a prova cabal dessa postura, ele termina o filme com
as imagens devastadoras do episódio de Charlottesville em 2017, pra colocar uma
pá de cal no assunto e deixar bem claro que a questão está mais presente do que
nunca.
A
Mula (2018) é outro exemplar magnífico de Clint Eastwood que continua me
surpreendendo com a sua fluidez narrativa de dar inveja. Alguns dias antes da
minha sessão eu assisti a Golpe de
Misericórdia (1949), de Raoul Walsh, que é uma das fontes inesgotáveis de
inspiração do veterano diretor. Os heróis
esquecidos de Walsh tem a mesma vitalidade dos personagens de Clint
Eastwood e flertam com a mesma intensidade com a morte. Duarte Mata, do ótimo
site português À Pala de Walsh, escreveu o que eu gostaria sobre o filme: “de
uma maneira ou de outra, filmes anteriores de Eastwood são aqui reunidos numa
obra que acarreta toda a aura de um filme-testamento, e o tráfico de drogas tem
tanta importância em A Mula como o
boxe tinha em Menina de Ouro: quase
nenhuma, antes o de ser um mero pretexto para falar sobre dois temas pessoais
que são o que interessam verdadeiramente a Eastwood, a família e a redenção”.
O Pecado de Todos Nós (John Huston, 1967)
Maj. Weldon Penderton (Marlon Brando): I'm sorry,
Leonora. It's just all this clutter is...
Leonora (Elisabeth Taylor): What's the
matter with clutter? I like it.
Maj. Weldon
Penderton: I'd rather live without it. Bare floors. Plain
white walls. No window curtains. Nothing but essentials.
Leonora:
If
that's the way you feel about it, why don't you resign your commission and
start all over again as an enlisted man?
Maj. Weldon
Penderton: Of course you're laughing at it, but there's much
to be said for the life of men among men... with no... luxuries, no
ornamentation. Utter simplicity. It's rough and it's coarse, perhaps, but it's
also clean - it's clean as a rifle. There's no speck of dust inside or out...
and it's immaculate in its hard young fitness... its chivalry. They're seldom
out of one another's sight. They eat, and they train, and they shower, and they
play jokes... and go to the brothel together. They sleep side by side. The
barracks room offers many a lesson in courtesy and how not to give offense.
They guard the next man's privacy as though it was their own. And the
friendships, my lord. There are friendships formed that are stronger than...
stronger than the fear of death. And - they're never lonely. They're never
lonely. And sometimes I envy them... well, good night.
domingo, janeiro 20, 2019
Malcom X (Spike Lee, 1992)
Eu achei que conhecia alguma coisa de
Malcom X antes de assistir a cinebiografia de um dos maiores defensores do
Nacionalismo Negro nos EUA. Anos de leituras superficiais a respeito do
assunto, especialmente as que enfatizam as diferenças de abordagem com Martin
Luther King no que diz respeito ao enfrentamento da segregação racial, foram o
combustível que nutriu o meu parco conhecimento sobre ele. Em algum momento
dessa trajetória, e não faz tanto tempo assim, essa superficialidade atingiu o
ápice da banalidade quando me foi feita a aproximação do personagem em
quadrinhos Charles Xavier com Martin Luther King e de Magneto com Malcom X,
ambos do X-Men. Nada contra as
criações artísticas, elas restringem-se apenas à representação de ideias.
O filme de Spike Lee, adaptado do livro A Autobiografia de Malcom X, de Alex Haley,
serviu para me apresentar à complexa personalidade de Malcom, de cabo a rabo,
desde a infância até o episódio do seu assassinato, e reafirmar a grandiosidade
de um dos grandes diretores norte-americanos em atividade. Eu não esperava
testemunhar um “cabo de guerra” entre negros na briga por poder. As duas
imagens que ilustram esse post me
surgiram enquanto eu assistia ao filme. Charles
Foster Kane (Orson Welles) e Elijah Muhammad (Al Freeman Jr.) são dois
líderes vaidosos que exercem enorme influência, recorrendo a atitudes reprováveis
quando veem seus impérios ameaçados. O primeiro é um magnata das comunicações,
dono das principais mídias existentes na época (década de 1940), manipulador
astuto; o segundo é um líder religioso (Islã), pregador habilidoso, defensor
dos negócios afro-americanos. Não seria improvável acreditar que o palanque de Elijah Mohammed foi construído tendo Cidadão Kane como modelo (a
materialização de “a vida imita a arte”).
A trajetória de Malcom X se assemelha a
de outros personagens ficcionais, dois dos quais explorados por Elia Kazan em Viva Zapata (1952) e Um Rosto na Multidão (1957), e um terceiro por
David Lean em Lawrence da Arábia (1962).
Todos se comportam como marionetes (puppets)
num cenário político de interesses bem mais amplo/complexo do que eles são
capazes de enxergar. Ao comunicar ideias revolucionárias, cuja evolução caminha progressivamente contrária ao establishment que os projetou, todos acabam pagando com as suas vidas.
Quando essas figuras enfrentam essas “instituições”, tornando-se maiores do que
elas, a luz de todos eles se apaga (diferentemente dos seus legados).
segunda-feira, dezembro 31, 2018
A Guerra do Vietnã (Ken Burns & Lynn Novick, 2017)
Só Deus sabe o que faríamos quando entrássemos naquele prédio. Algumas pessoas, os hippies, diriam que iriam fazer o prédio levitar. Outras pessoas queriam vandalizar o prédio. Outros queriam distribuir textos antiguerra no prédio, conversar com as pessoas. Só a ideia de entrar na sede dos militares dos Estados Unidos... foi a primeira vez que protestos antiguerra confrontaram pessoal em serviço militar. Não os considerávamos inimigos. Nós os considerávamos vítimas de guerra. Mas começamos a ver o nosso próprio governo como inimigo.
BILL ZIMMERMANN
O fim dos anos 60 pareceu a confluência de vários riachos. Havia o próprio movimento antiguerra, o movimento de igualdade racial, do meio ambiente, do papel das mulheres... e os hinos daquela contracultura eram feitos pelo rock n´ roll mais incrível que você possa imaginar. Não sei como poderíamos existir hoje como país sem aquela experiência. Com todos os defeitos, altos e baixos, aquilo gerou os EUA que temos hoje, somos melhores por isso. Eu me senti assim no Vietnã. Eu apoiava todas essas coisas. Aquilo representava o que eu tentava defender.
GENERAL MERRIL McPEAK
Minha memória bélica é totalmente moldada
pela experiência cinematográfica. Tudo o que “aprendi” a respeito da Guerra do
Vietnã foi assistindo Platoon (Oliver
Stone, 1986), Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979), Nascido para Matar
(Stanley Kubrick, 1987), Nascido em 4 de Julho (Oliver Stone, 1989), O Franco
Atirador (Michael Cimino, 1978), Rambo: Programado para Matar (Ted Kotcheff,
1982), Rambo II: A Missão (George P. Cosmatos, 1985), etc. Outros filmes
como O Sobrevivente (Werner Herzog,
2006), Bom dia Vietnã (Barry Levinson, 1987), Pecados de Guerra (Brian de
Palma, 1989) e Southern Comfort
(Walter Hill, 1981) vieram depois. Mesmo que alguns destes houvessem sido
lançados junto com a primeira leva, o estrago já havia sido feito. Dos primeiros,
assisti quase todos próximos de seus lançamentos, no calor da hora, exceto
aqueles que foram lançados na década de 70.
Todos eles abordam um recorte do período da
guerra que se estendeu por pelo menos 15 anos. Alguns deles nos colocam no
front de guerra, outros nos bastidores; uns nos momentos que antecedem a
convocação, outros no período de retorno à pátria; uns exploram o treinamento,
outros o corpo a corpo; uns se voltam para os soldados, outros para as patentes
mais elevadas. Todo esse pequeno arsenal de produções provocam no espectador
reações de revolta, incerteza, injustiça, insegurança, loucura, insensatez,
medo, etc.
Nenhuma dessas produções me preparou para
o monumento cinematográfico que foi assistir às 18 horas de A Guerra do Vietnã. Todo o contexto
político que antecedeu a guerra, os presidentes envolvidos e seus dilemas, a
efervescência cultural dos anos 60, o movimento de contracultura, o movimento
dos direitos civis, o rock n´roll, as drogas, o papel da televisão, o embate
ideológico travado entre comunismo e capitalismo, a guerra fria..., está tudo
lá, absolutamente tudo. Embora já faça uns 4 meses que terminei o documentário,
o fantasma do seu conteúdo me atormenta até hoje. Passei a enxergar a
influência do confronto em esferas que antes me pareciam mais desconexas, mais distantes.
O legado é imenso e parece que foi devidamente documentado. Este foi certamente
o melhor filme que vi em 2018.
sexta-feira, dezembro 28, 2018
Beau Travail (Claire Denis, 1999)
Eu flerto com Beau Travail já faz uns bons anos, pelo menos desde a descoberta de
Denis Lavant dos filmes de Leos Carax. Antes da sessão dele, vieram outros
trabalhos de Claire Denis, sendo Nanette
e Boni (1996) o único anterior na cronologia da sua filmografia. Tenho
pouca familiaridade com a carreira dela, embora eu conheça relativamente bem
dois dos seus renomados “mentores”: Jim Jarmusch e Wim Wenders.
Denis não é exatamente uma adepta da
escola narrativa (no sentido de contar uma história com início, meio e fim),
seu cinema é mais guiado pelas emoções ou pela experiência física dos seus
personagens, cuja forma se constrói basicamente na sala de edição. Por mais que
todo filme respeite essa lógica, em Claire Denis essa questão é mais orgânica -
diálogos escassos e câmera colada nos personagens.
Ainda que meu conhecimento a respeito da
sua carreira seja pouco aprofundado, ele foi suficiente pra orientar minha
expectativa de forma apropriada. O que significa dizer, especificamente, que o
cinema clássico norte americano não seria o modelo estrutural adotado, embora o
filme seja uma adaptação livre de Billy
Budd, um clássico da literatura mundial, de Herman Melville.
Seus soldados da Legião Estrangeira
Francesa me trazem à lembrança outros filmes que também exploram combatentes em
permanente treinamento para enfrentar a guerra que nunca acontece, enquanto
experimentam um misto de ansiedade e tédio. A referência máxima seria O Deserto dos Tártaros (1976), de
Valério Zurlini, embora ele seja mais elitista (envolve o alto escalão) e
quase metafísico na relação estabelecida como o tempo; em Beau Travail os soldados são rasos e o tempo não recebe um tratamento metafórico.
Os soldados de Beau Travail estão mais para deuses gregos de corpos majestosos,
laborando incessantemente sob o sol escaldante litorâneo, enquanto encenam
involuntariamente para colonos africanos que os observam num misto de admiração
e indiferença. A experiência militar, comumente associada à destruição e ao
extermínio, encontra em Denis uma abordagem renovada, de rara beleza plástica, sem cair na armadilha do discurso anti-militarista entremeado pelo próprio espetáculo (imagético) da guerra.
A enigmática cena final, em que Denis
Lavant dança ao ritmo de “The Rhythm of the Night” do Corona, reforça a
ambiguidade dos relacionamentos explorados até então. É certo que o ato que promoveu
o seu desligamento da Legião gerou um impacto emocional, só não sabemos ao
certo qual foi. Sua espontaneidade corporal desperta no espectador um
sentimento contraditório de exaltação e desolação: a fluência e a elasticidade
natural do seu corpo parecem ter sido abafadas pela disciplina e o rigor do
treinamento militar. O toque de Claire Denis repousa nessa capacidade de extrair
sensibilidade e beleza de um material que é, por natureza, bruto.
sábado, dezembro 01, 2018
República dos Assassinos (Miguel Faria Jr., 1979)
Tarcísio Meira (Mateus Romeiro): Querem me fazer pagar pelos erros de todos. Eu sou um policial Dr. Clemente. Acima de tudo eu sou um policial. Não é justo depois de tudo que eu fiz que me deixem apodrecer aqui dentro da cadeia. Foi por isso que eu mandei chamar o senhor aqui. Eu tenho que sair daqui.
Ítalo Rossi (Dr. Clemente): Você está nas mãos da justiça. Só ela pode....
Tarcísio Meira: A justiça não decide coisa nenhuma Dr. Clemente, o senhor sabe disso. Nós agimos antes da justiça. Só o que eu preciso é da ajuda dos bons amigos que eu tenho. Eu tenho bons amigos. O senhor, por exemplo, é ou não é meu amigo?
Ítalo Rossi: Vocês me traíram... traíram a minha confiança. Estão sabendo de tudo... até o Alcindo quer abrir o bico e falar com o promotor. Sei lá que histórias ele vai inventar....
Tarcísio Meira: O senhor sabe das histórias todas, sempre soube. Tá certo, o Alcindo é um bobo por querer abrir o bico, mas eu compreendo como ele está se sentindo. Engaiolado feito um bicho, um marginal qualquer, eu mesmo já tive vontade de mandar chamar esse promotor...
Ítalo Rossi: O quê?
Tarcísio Meira: Mas aí eu me lembrei dos bons amigos que eu tenho, e pensei... a minha obrigação é proteger os bons amigos. Porque mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, eles vão me tirar da cadeia. A minha prisão foi um erro Dr. Clemente. Eu não devia estar aqui. Se não fosse aquela putinha, filha do seu amigo...
Ítalo Rossi: A moça está enganada, disse que você a sequestrou... foi isso o que ela contou para o pai.
Tarcísio Meira: Os dois são da mesma raça... não tenho dúvida disso. Ele vai ganhar uma cadeira no Senado e ela vai conseguir um babaca qualquer pra se casar com ela. Quanto a mim, eu não fico aqui... nem mais um dia. Pense bem sobre o assunto... o senhor é ou não é meu amigo?
quinta-feira, novembro 01, 2018
Chazelle, Mizoguchi, Muylaert, Lee e Huston
O
Primeiro Homem (Damien Chazelle, 2018) – o jovem diretor parece interessado em
construir sua “autoria” investindo na trajetória de artistas, sejam eles
músicos, escritores ou astronautas, que suam suas camisas em busca do
estrelato. Para ele, esse processo não tem nada de glamoroso. São sangue, suor
e lágrimas. Chama-me a atenção o esforço que ele faz para encontrar uma conexão
emocional junto ao público. Aproveitei para ver Os Eleitos (Phillip Kaufman, 1983) por ocasião da estreia acima. Imagino o impacto que o filme deve ter
causado no seu lançamento, ainda que os relatos sejam de que ele foi bem
mal de bilheteria. É uma grande produção que trata o assunto com leveza (as
mortes são despachadas como nota de rodapé), sobressaindo a visão irônica da
prosa de Tom Wolfe, responsável pelos momentos inspirados de humor. A narrativa
que intercala as missões dos astronautas com a agonia doméstica das esposas
virou modelo para as produções que vieram depois.
Rua
da Vergonha (Kenji Mizoguchi, 1956) – o post de Sérgio Alpendre, intitulado
“hierarquia mizoguchiana”, adiantou a minha sessão do filme, já que pretendia
encarar a carreira do diretor de forma cronológica (com as produções que tenho
disponíveis), mesmo tendo encaixado Contos
da Lua Vaga (1953) e O Intendente
Sancho (1954) sem respeitar esse critério. Sendo assim, fui involuntariamente
direto para o seu canto do cisne. É um filme muito duro, quase documental,
retratando a vida num bordel do pós-guerra japonês. Quem o assiste, o adota
como referência. Mesmo certo de que as gueixas haviam comido o pão que o diabo
amassou, as histórias individuais delas ainda ressoam por dias a fio. Mizoguchi
não investe no sentimentalismo barato. Suas mulheres não são fragilizadas como
reflexo da condição exploratória que assumem, tendo algumas delas, inclusive,
se fortalecido pela experiência. Não é um filme agradável, embora seja
obrigatório.
Mãe
só há uma (Anna Muylaert, 2016) – os últimos filmes da diretora, incluindo
esse, nos convidam a reflexão. Desta vez, acho que a construção dramática foi
mais convincente do que em Que horas ela
volta? (2015). Começa dando indícios de que vai partir para uma exploração
do ambiente juvenil, centrado no personagem de Pierre, aparentemente indeciso
sobre a sua inclinação sexual. A guinada se dá cedo, quando os pais biológicos
de Pierre (Naomi Nero) o encontram, assumindo as rédeas da sua vida, justamente
no momento em que seu desabrochar sexual parecia conduzi-lo para uma saída do
armário. A abordagem é mais sensível do que o meu relato. O choque proporcionado
por esse convívio forçado e totalmente inoportuno (do ponto de vista dele)
proporciona momentos dramáticos bastante fortes. O jovem usa o figurino como
objeto de resistência, identidade e protesto.
Rodney
King (Spike Lee, 2017) – à espera do que pode vir a ser um dos grandes
filmes do ano, Infiltrado na Klan (Spike Lee, 2018), nos resta essa produção curta de Spike Lee, apenas 52 minutos, disponível na Netflix. Uma
espécie de versão cinematográfica de Hurricane,
a obra prima musical de Bob Dylan. Performance magistral de Roger Guenveur
Smith: corpo, voz e luz.
Á
Sombra do Vulcão (John Huston, 1984) - o que é a interpretação de Albert Finney?
Tornou-se a minha referência para o retrato de um alcoólatra. A carreira do
diretor costuma ser celebrada por outras produções, deixando essa pérola de
lado, em escanteio, o que é um desperdício. Imagens do grande fotógrafo Gabriel
Figueroa, que valoriza as cores do seu México. O filme explora a agonia da
liberdade que não pode ser gozada. Nas palavras de Geoffrey Firmin (Albert
Finney), “Sobriety, I´m afraid. Too much moderation. I need drink desperatly to
get my balance on”.
quarta-feira, outubro 17, 2018
O Cidadão Ilustre (Gáston Duprat e Mariano Cohn, 2016)
Há algum tempo atrás eu me posicionei a respeito da idolatria que a brasileirada costuma prestar aos filmes produzidos na Argentina. Sem contestar a sua perceptível qualidade, ainda não me convence raciocinar que a produção artística deles seja melhor que a nossa. Parece irônico que alguém que escreve essas linhas no início da postagem emende dois textos seguidos com filmes argentinos. Se eu escrevesse com mais frequência talvez até fosse possível rebater essa questão, mas no ritmo que venho me dedicando a este espaço fica difícil convencer quem quer que seja.
Pra colocar uma pá de cal no assunto,
escrevo para registrar o meu entusiasmo com O Cidadão Ilustre. Acho que
encontrei meu filme argentino pra levar para uma ilha deserta. O filme anterior
da dupla Gastón Duprat e Mariano Cohn, O
Homem ao Lado (2009), já havia sido muito bem recebido pela crítica, mas,
honestamente, ele só reforçava pra mim a insensatez das comparações entre as produções artísticas dos dois países. Eu encarava os elogios demasiadamente
forçados, sem que o filme merecesse tamanho reconhecimento. Pode ser que ao
revê-lo, eu encontre aquilo que não fui capaz de enxergar anteriormente.
Sem mais delongas, vou direto ao ponto: O
Cidadão Ilustre é um filmaço. Resumido em poucas linhas é a história de um
escritor argentino (Oscar Martínez), radicado há 40 anos na Europa, vencedor do
prêmio Nobel de Literatura, cujos personagens de seus livros premiados foram
inspirados pelas memórias cultivadas em sua terra natal. O filme abre com a
cerimônia de premiação do Nobel, cujo discurso de aceitação já antecipa o
temperamento do personagem que será escaneado até a última cena. Do seu
calendário repleto de convocações para cerimoniais inócuos ao redor do planeta,
surge o convite, a priori rechaçado, para uma visita a sua cidade natal a fim
de receber o tal título de Cidadão Ilustre.
A partir do aceite, o eixo da narrativa
se desloca definitivamente da modernidade da cidade grande para o conservadorismo
campestre, retrógrado e antiquado. Logo que ele desembarca em território
argentino, sucedem-se situações que evidenciam a precariedade dos meios,
familiar a qualquer cidadão sul americano (as cenas são bastante inspiradas). A
recepção calorosa, dotada de uma falsa sensação de hospitalidade, em contraste
com a solenidade da cerimônia de premiação do Nobel, aos poucos começa a
escancarar a sordidez que rege as relações entre os habitantes da cidade. A
rispidez e a falta de tato no trato com as pessoas por parte do Cidadão Ilustre
só fazem aumentar o abismo existente entre eles, levando parte dos cidadãos a
se rebelar contra o figurão, acusado de abandonar suas raízes para explorar
seus conterrâneos por meio dos personagens de suas publicações.
Quanto mais o Cidadão Ilustre interage
com as pessoas, maior o desconforto gerado pela sua presença. Mesmo quando ele
encontra antigos amigos, existe um ressentimento que paira no ar, dificultando
a comunicação entre as partes. O não dito é sobrecarregado de mágoas e rancor,
ainda que as aparências sugiram o contrário. À medida que a produção avança
para o seu desfecho, a integridade de Oscar Martínez exerce um contraponto de
resistência à corrupção latente dos habitantes da cidade de Sales. A criação
artística, maltratada por àqueles que ditam as regras no município, é
manipulada para promover o status quo,
empurrando para baixo do tapete os talentos genuínos, sufocados pela
mediocridade vigente. A cena final provoca uma reflexão ao sugerir uma nova
interpretação para os fatos narrados. O cinema assume a condição de arte,
ancorado na ambiguidade do discurso.
Assinar:
Postagens (Atom)